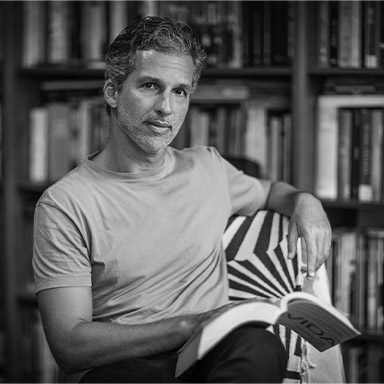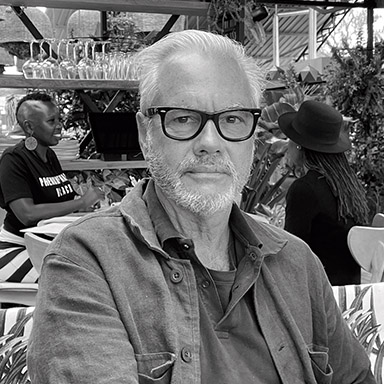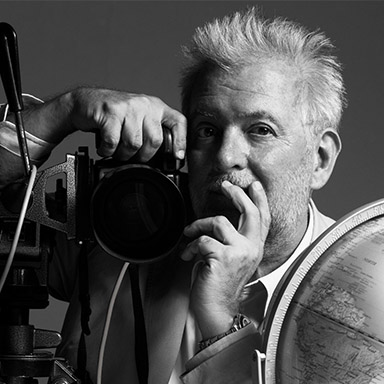Vinyl Bar
“Sem música, a vida seria um erro”, disse o filósofo alemão Nietzsche, formado na Universidade de Basel, pertinho aqui de Montreux, onde me encontro para quebrar o hiato forçado com os shows desde o início da pandemia.
Não sei quanto a você, mas minha relação com a música é forte. A foto tirada aos três anos de idade, trocando um vinil numa vitrolinha portátil que ganhei de aniversário, arma-secreta usada por minha mãe usa para me matar de vergonha, é meu primeiro registro de amor aos sons. Quando criança, gostava de memorizar os nomes dos artistas que tocavam nas trilhas das novelas e comerciais. Os professores percebiam a cadência para as toadas e armavam armadilhas para apresentações na escola. Dançar e cantar Menudo no pré, hoje, seria categorizado como bullying, mas eram outros tempos.


Por influência dos primos mais velhos, cresci ouvindo os sons dos 1980 e quando os hits de bandas como Depeche Mode, Smiths, Cure etc. fizeram seu revival cíclico lá pelos idos dos 2000, me ajudaram a pagar a faculdade tocando como DJ em inferninhos de SP, eventos de agências de publicidade e festas bacanas de quem fazia questão de se jogar na moda da sonoridade vintage da década mais pop da história.
Lembro bem do primeiro festival que pisei, o extinto Hollywood Rock, aos 15 anos de idade para ver o Nirvana, a banda da minha vida no começo dos 1990. Como meus pais não me deixaram ir com os amigos, um primo metaleiro me pajeou e, em troca, no ano seguinte, encarei com ele o também dissipado Philips Monsters of Rock. Na mesma época rolou meu primeiro Free Jazz (outro finado favorito). Daí por diante, não parei mais.

Comecei a trabalhar para sustentar as idas às galerias da 24 de Maio e aos shows que apareciam para desidratar meu holerite. Em 1998, completamente britpopizado, minha primeira e sonhada ida a Londres tinha somente um objetivo: comprar absolutamente todos os singles e álbuns que pudesse carregar ou, melhor, bancar. Ah, que saudade dos tempos em que a moeda da rainha valia um pouco menos.
“Sem música, a vida seria um erro”


Vou pular alguns anos dessa biografia de anônimo direto para o final dos 2010. Depois de uma década workaholic, trabalhando e viajando muito, entrei numa espécie de burnout criativo. Cheguei à conclusão de que havia deixado de fazer muitas das coisas que mais me inspiravam. Claro que ouvia muita música. Claro que batia cartão em um sem fim de shows. Mas havia nisso um sabor de produto descartável, típico da década da aceleração digital. E junto com ela, eu havia endurecido. A solução era um sabático. Como não havia tempo nem recursos para um ano nos Himalaias, reservei o Primavera Sound de Barcelona e viajei sozinho. E para dar um tom sabatino à viagem, desconectei da internet assim que o avião decolou de Cumbica.
Como em todo bom sabático, algo mágico aconteceu. Durante os dias sozinho correndo de um palco para outro no imenso festival da capital catalã, fiz as pazes com o moleque que tomava várias estações de metrô para chegar até a Galeria do Rock, ao Palace e ao Olímpia. Foi assim que esse e outros festivais passaram a fazer parte da minha programação anual até o momento em que o mundo nos colocou em pausa.


Essa longa introdução
é uma tentativa de
colocar em palavras
para os leitores da
UNQUIET o que
significou para mim
ter participado da
abertura do
Montreux Jazz Festival,
no ano em que voltamos
a fazer as coisas que mais gostamos.