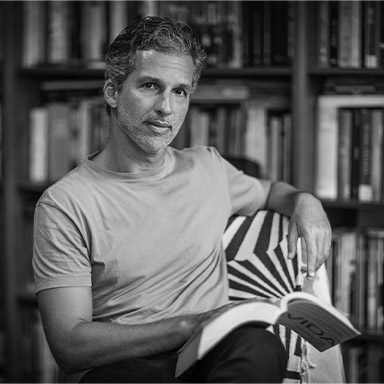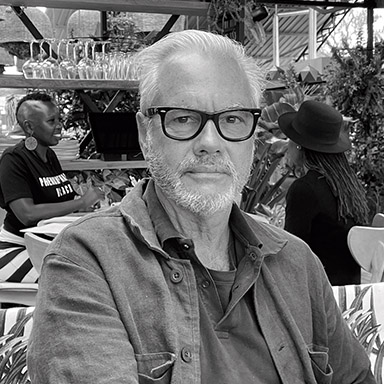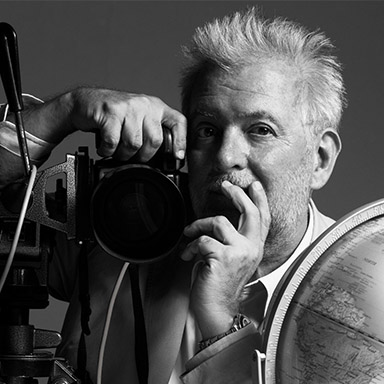O barco aportou na ilha quando o turquesa do mar e o marinho do céu eram um negro só.
As luzes tímidas da choça apontavam apenas o caminho exato para chegar até o alto do penhasco, onde um pequeno grupo de forasteiros quebrava com modéstia o silêncio da praça com suas conversas sobre os últimos raios de mais um verão. O tom e os passos, os gestos e os assuntos pareciam proibidos – a sensação era que estavam intimamente reunidos em uma sociedade secreta, comunitários em sua conquista particular, entendidos que chegaram e pertenciam a um lugar para muito poucos e que assim sempre fosse.
Causou susto a minha aparição no calar da noite, solitário de nome grego e cara sem origem certa. Entregou-me o escapulário – “Ele deve ser brasileiro”, exclamou quem mais tarde se tornaria meu irmão ateniense, Konstantinos de Kostantakis, doce e inebriante como o rakomelo, espécie de aguardente misturado com mel, servido quente em jarras sobre a mureta da igrejinha na qual, no dia seguinte, um casamento ortodoxo me faria voltar a acreditar no amor.
Minha primeira madrugada naquele refúgio sagrado me fez jurar, antes para mim e depois para a grega Regina e o francês Jérôme, mais os italianos Nicola e Federico, que não diria o nome do lugar nem sob tortura. Estávamos quase sós em uma das pequenas ilhas Cíclades que boiam secas, pálidas e firmes sobre o mar Egeu, protegidas pelas escarpas que escondem as ruelas e as casas caiadas de branco e azul com tapetinhos de sereia e barcos de papel pintados no chão torto.
Pela manhã, senhoras de olhares ligeiros e desconfiados descascavam legumes e preparavam o queijo feta nas escadas, ao lado de gatos, muitos, vagabundos e mimados com o leite das cabras que correm livres à beira do precipício. Seguimos os passos das cabras, que não pisam em falso jamais, no rastro de seus cocozinhos em forma de bola de gude, em direção às praias quase impróprias para banho, tamanho o pavor de sua imensidão selvagem.
Nadamos nus, submersos da aridez e das farpas alheias, anárquicos em nossa existência com menos sentido e mais sentimento, tostados pelo Sol implacável que não longe de nós assola o Saara e nos faz imaginar como deve ser a vida na Líbia. Abrimos entre as pedras o espaço exato para estirar nossos panos e sacamos da bolsa o cinzeiro, a sacola de uvas e o ramo de kalamata, a garrafa de água, o resto de ouzo da noite anterior e tocamos a música. Ao som do bouzouki, o melancólico bandolim helênico que faz do fado português uma ode à felicidade, trocamos confidências, experiências, vivências, promessas e ideias para mais um segredo feito no apagar das luzes de uma temporada com sabor de odisseia.
Estávamos a salvo, talvez não muito sãos, mas radiantes e deliciosamente fartos de luz e liberdade com prazo de validade. Porque no cair de uma tarde qualquer, sabíamos que chegaria a hora de deixarmos uns aos outros e seguirmos nosso destino incerto rumo à terra firme de uma Europa movediça. Mas, enquanto isolados, promovemos em uma das ilhas gregas a nossa terra firma, alheios à sarabanda de turistas, cruzeiros, carros, malas e pacotes de viagem que afundam Mykonos e Santorini, saciando a sede veranista de quem veio ao mundo mais a excursão que a passeio.
Fomos embora na primeira rajada do vento meltemi, que sopra forte e desenha nuvens no céu. O nome da praia, da ilha, como chegar, com quem ficar, o que comer, nada será revelado para a preservação de nosso ideal de hábitat natural. Pois os nativos, acostumados a invasões desde o surgimento dos deuses olímpicos, merecem a trégua em um de seus últimos refúgios semivirgens, a poucas milhas náuticas de Atenas. No que depender de Hermes, o mensageiro, o astrônomo, protetor da escrita e deus dos andarilhos e dos ladrões, o segredo está a salvo em nome de Zeus.