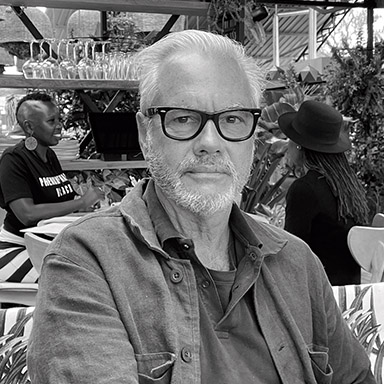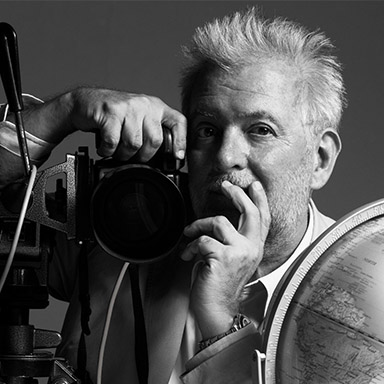Ao conhecido devaneio “se você pudesse voltar no tempo, para que época gostaria de ir?”, eu não hesito em responder: “Para o Paleolítico”. Suspeito que, mais especificamente, para o paleolítico inferior, aquela zona cinzenta, turva, que fica na fronteira entre o pré-humano e o humano, que fica, portanto, nos limites do nosso conhecimento antropológico e arqueológico. Uma fronteira coberta por espessas camadas de tempo, que tornam esse conhecimento irredutivelmente especulativo.
Minha atração pelo Paleolítico começou na adolescência, quando tomei contato com as imagens de pinturas rupestres das grutas de Lascaux, na França, e de Altamira, na Espanha. Muitos anos depois, quando presidi a Fundação Nacional de Artes (Funarte), conheci a senhora Niède Guidon num evento do Ministério da Cultura. Confesso, embora envergonhado, que só ali soube da existência da Serra da Capivara, que é simplesmente o maior complexo de arte rupestre em todo o mundo (cujas preservação e documentação devemos ao trabalho dessa mulher extraordinária, a doutora Niède).
Enquanto milhões de turistas se dispõem anualmente a visitar cópias das grutas europeias (pois as cavernas verdadeiras só são acessíveis a estudiosos, e com a autorização governamental), aqui, no Brasil, no pouco glamouroso estado do Piauí, apenas entre 15 e 20 mil pessoas partem a cada ano para conhecer o tesouro esplêndido de 400 sítios arqueológicos, and counting, com artefatos líticos, esqueletos e pinturas rupestres, que remontam a 50 mil anos AP. Pois é, como diz a letra do samba, “o Brazil não conhece o Brasil”.
Como se não bastasse, esse museu da aventura humana a céu aberto e ao alcance das mãos (só idiotas tocariam nas pinturas rupestres, já que no parque todas podem ser vistas a centímetros de distância), desdobra-se simultaneamente um museu da aventura da Terra: o espetáculo de traumas geológicos produzidos por milhões de anos, que geraram formações complexas, multicoloridas, feitas de erosões monumentais, em cujas cavernas, justamente, encontram-se as pinturas e os demais vestígios de nossos remotíssimos antepassados ameríndios.
Visitei o Parque Nacional da Serra da Capivara em fevereiro de 2019. Enquanto eu e minha companheira, Ana Lycia, explorávamos as longas trilhas, com seus variados acidentes, e nos extasiávamos com as paisagens e pinturas rupestres, o vírus da covid-19 invadia o mundo. Nós ainda ignorávamos seu alcance, como ignorávamos que ali, naquele palco tão originário, também havíamos produzido a origem de uma vida: nossa filha, Madalena, foi concebida no Sítio do Mocó, um pequeno vilarejo de cerca de 300 habitantes, que queda aos pés da majestosa serra, com sua miríade de “claros enigmas”.
No Parque Nacional da Serra da Capivara, eu contei sete sons de pássaros diferentes enquanto descansava no oco de uma rocha (o guia que nos acompanhava, de ouvidos mais apurados, contou 11). Fizemos trilhas inesquecíveis. Observamos, à noite, um paredão iluminado repleto de pinturas rupestres, que se assomava diante de nossos olhos como uma Capela Sistina do Paleolítico. Estivemos por uma semana entre um futuro ignorado e assustador e um passado remoto e assombroso ‒ ignorado pela imensa maioria dos brasileiros. Se você chegou até aqui, confie em mim e faça da Serra da Capivara o seu próximo destino. Lá o Paleolítico é agora.
Crônica publicada na edição 10 da Revista UNQUIET.